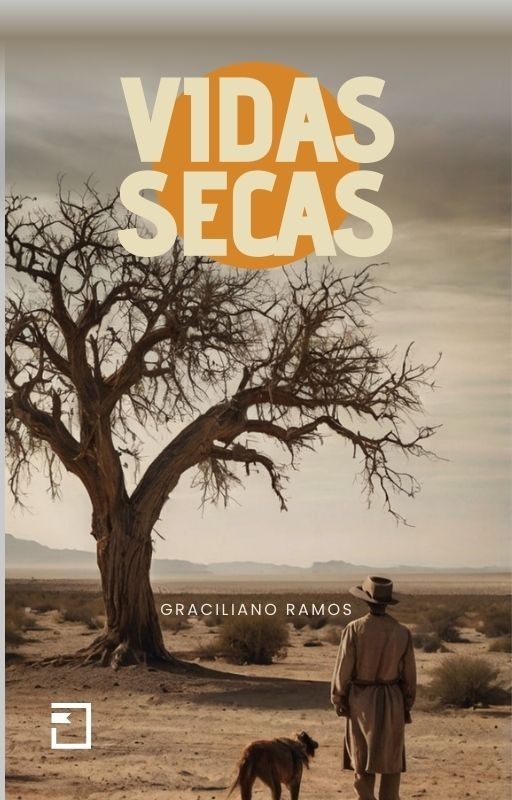Vidas Secas Posfácio
Inferno, alpercata: trabalho e liberdade em Vidas secas
HERMENEGILDO BASTOS
Quando Baleia sonha ou delira ou agoniza; quando pensa e projeta; quando opina sobre Fabiano e os destinos, dele e seu, e de todos, homens e natureza; quando leva o leitor a elaborar juízos de valor sobre o mundo e as relações sociais, qual o sujeito dessas sensações e pensamentos? O narrador — que de maneira propositada confunde o seu discurso com o dela? O escritor — intelectual para quem a transformação socialista é o caminho de superação do mundo reificado? Os outros personagens — iguais a Baleia, mas capazes de sacrificá-la no momento do perigo? E o leitor, como se inclui na história? Até onde vai sua identificação com o animal? Baleia é um locus de onde vêm muitas falas e silêncios, onde se encontram e também se chocam vários sujeitos de enunciação. É a figuração dos derrotados, mas transmite universalidade. Uma consciência ao mesmo tempo individual e coletiva vive o mundo de opressão, mas também o sonho de liberdade. O sonho termina em delírio porque não há lugar para ele, só pode ser realizado pela transformação do mundo, mas encontra lugar numa escrita da radicalidade.
A construção dos capítulos confirma essa hipótese de leitura. Cada um tem o seu ponto de vista, o seu foco. A cada capítulo muda a perspectiva, que ora é de Fabiano, ora é de Baleia, ora é do menino mais velho etc., nunca é a imposta pelo narrador. O eu e os seus outros. A literatura de Graciliano Ramos se articula em torno do problema do outro — como viram os seus críticos, de Antonio Candido e Roger Bastide a João Luis Lafetá e Luís Bueno.
Numa sociedade como a nossa, em que o outro (de classe, de gênero, de etnia) está soterrado, uma obra como a de Graciliano Ramos é algo quase único. Mas que não se busque aí o canto da alteridade como coisa dada, pois o que temos é a difícil ou quase impossível alteridade. É no limite que ela se compõe. O modo de compor abre a narrativa à busca do outro. Aí se materializa o ponto de vista ideológico do escritor.
Vidas secas apresenta e representa um mundo pós-edênico. O mundo da queda e da degradação. Mas isso é colocado num horizonte novo, se comparado com as outras obras do escritor. Nele não cabem os trabalhadores de S. Bernardo. Estes habitam um planeta cuja divisão de trabalho é moderna. Não quero dizer que Fabiano não está no mundo capitalista, está, mas numa relação diversa.
Fabiano não é a nova versão de Marciano ou Mestre Caetano, ainda que compartilhe com eles a condição de trabalhador rural desqualificado. Fabiano protagoniza outra história: protege o filho mais velho quando da longa viagem, esforça-se por entender o mundo e a exploração, pode escolher entre matar o soldado amarelo ou deixá-lo viver, suporta os conflitos de ter que dar cabo de Baleia e, aos olhos do filho mais novo, é um herói.
A condição humana em Vidas secas é degradada, mas a proximidade dos personagens da vida natural lhes confere uma espécie de reserva ética que não existe nos demais romances de Graciliano Ramos. É como a memória de um estágio da evolução em que a reificação não era absoluta como já o é em S. Bernardo. E, mais importante, a memória é do passado, mas pode também ser do futuro. Como se pudéssemos recomeçar, estabelecendo outros vínculos com a natureza e entre os homens. A natureza não é, então, paisagem. É o outro do homem, lhe impõe limites a partir dos quais ele trabalha e submete-se aos imperativos da escassez e da necessidade. O homem a domina e domina-se. Urge então criar novos caminhos.
Em 2008 este pequeno livro, experimental e clássico, completa 70 anos de vida. Que se pode dizer dessa longevidade? Ela se origina de como o romance provoca o leitor a acompanhar o processo de produção literária; ao mesmo tempo envolve-o na questão do destino dos personagens e do gênero humano. Ao ser levado por esse ritmo, o leitor vivencia o trabalho, a fadiga e os limites naturais e sociais da existência humana. Diretamente ligado a isso, o leitor pode vislumbrar o mundo da liberdade nos pequenos sonhos daqueles pequenos seres. Os sonhos são modestos, mas por eles o leitor pode ver um mundo outro, de liberdade. Trabalho e liberdade: do autor na produção de sua obra e dos personagens nos eventos narrados.
Roger Bastide diz que a composição em Graciliano Ramos se faz por decomposição. A visão, diz ele, é sempre analítica. Deveríamos acrescentar que, se isso é assim, é porque a reificação invade o trabalho poético. O que temos são partes do corpo, ou da alma, ou do espaço, ou do tempo. Só depois essas partes se conjugam na visão do narrador e do leitor. Suprema coragem de um escritor, a de assumir a condição da arte numa sociedade reificada.
Dizer que um mundo outro que não o da reificação é possível pressupõe o mundo real como espaço de uma derrota prévia.
Se Graciliano Ramos queria eliminar tudo para ficar só com a poesia, como disse Otto Maria Carpeaux, falta dizer que tampouco a poesia consegue fugir à reificação. Eis a experiência cruel vivida pelo menino mais velho no deslumbramento que tem todo poeta em face da descoberta de uma palavra nova: que quer dizer inferno? Ele não podia aceitar que uma palavra tão bonita (a palavra-coisa de que fala Sartre) pudesse ter um significado tão ruim. Infelizmente não pôde resistir ao poder da palavra. Sinha Vitória não lhe dá atenção; depois lhe dará um cocorote.
“Estivera metido no barreiro com o irmão (...). Deixara o brinquedo e fora interrogar sinha Vitória. Um desastre. A culpada era sinha Terta, que na véspera, depois de curar com reza a espinhela de Fabiano, soltara uma palavra esquisita (...). Ele tinha querido que a palavra virasse coisa e ficara desapontado quando a mãe se referira a um lugar ruim...”
A linguagem é, como se tem observado, um problema em Vidas secas, a linguagem como a consciência imediata do homem. Os personagens de Vidas secas, em sua existência quase “natural”, ganham a sua sobrevivência na luta direta com os elementos naturais, num estágio dir-se-ia primitivo das forças produtivas. Apesar disso, recebem seu soldo, fazem parte da economia capitalista de que a fazenda, o seu proprietário, os outros trabalhadores, os habitantes da vila — dentre eles, o soldado amarelo, o dono da venda, o fiscal etc. — integram-se ao processo de exploração do capitalismo em sua vertente colonial.
Próximos à natureza, mas ao mesmo tempo dela afastados por uma relação de trabalho alienado, os personagens de Vidas secas parecem ser símbolos do ser social em seu processo de evolução histórica. É nesse sentido que se pode dizer que a natureza é a questão aí: natureza e trabalho.
Daí certo caráter mágico que preside às ações dos personagens. A magia, prática social de tempos pretéritos, agora passa a ser uma forma de alienação. Mas sugere, contrapondo-se ao pensamento lógico-discursivo do narrador — sua sintaxe e forma narrativas —, uma opção. Como forma de pensamento dos personagens, a magia não desequilibra o pensamento do narrador, mas relativiza-o; retira dele qualquer sombra de completude ou autossatisfação. A magia é ao mesmo tempo o limite que se coloca aos personagens e o sonho de superação desse limite. O falado (e mal interpretado) fatalismo de Graciliano Ramos pressupõe a liberdade humana como contraparte dialética. A ida para o Sul não é essa liberdade. Se a narrativa segue um rumo fatalista, se a opressão vence, há aí, entretanto, uma lição de liberdade.
Acompanhamos outra vez essa lição na ação que se segue ao diálogo do menino mais velho com sinha Vitória. De volta da decepção que sofrera com a mãe, ele topa com Fabiano, que lhe ordena que bote os pés no chão, como quem diz desça das nuvens. Sob os pés do menino mais velho, no couro, o vaqueiro desenha com uma faca uma alpercata. Em vez das palavras da poesia, uma alpercata para bater e ser batido e moído no chão do mundo.
No desenho feito pelo vaqueiro, a alpercata projetada cortada na medida do pé do menino é o imaginário. Do traço do vaqueiro no couro salta a alpercata. Mas esse trabalho traz em si suas limitações: sendo produção de um artefato para a luta pela sobrevivência, é também forma de submissão às condições impostas.
O menino mais novo também tem a sua parcela de punição: ao tentar mimetizar o pai vaqueiro, sofre o deboche dos outros. Também Baleia morre sonhando com um mundo cheio de preás, um sonho impossível de ser sonhado, já delírio.
A imaginação é impedida de se realizar plenamente e, assim, internaliza os limites a ela impostos, passando a incluí-los, mas sem deixar de combatê-los. A condição comum ao menino mais velho, ao mais novo e a Baleia é a da reificação. Vidas secas narra o mundo reificado e a luta dos homens pela liberdade.
A condição do autor não é outra. Os limites da imaginação são tomados como problema da vida e também da arte. Só assumindo os limites é possível ir além deles. O autor também vive no mundo reificado e a sua atividade como escritor também se dá nesse mundo. A questão tratada como situação dos personagens é também a questão da obra que está sendo produzida e seguida de perto pelo leitor. O leitor vê a imaginação e os seus limites na história e no discurso. A obra narra duas histórias simultaneamente: a história de Fabiano e sua família e a história da escrita da obra. O escritor converte-se em personagem da obra, de modo diferente daquele de quando o narrador era também personagem.
O que se chamaria “a liberdade de criar” é problematizado em Vidas secas, como de resto em toda obra literária. Mas aqui o é assumidamente, como um acinte (no sentido da expressão latina: a scinte, a sciente, o que é praticado de caso pensado, com o fim de provocar). Liberdade de produzir, liberdade de dispor das técnicas de produção. Mas quem pode dispor sem constrangimentos (econômicos antes de tudo, políticos em seguida) das técnicas de produção?
O leitor é levado a acompanhar o desenrolar da obra, a compartilhar as escolhas do escritor e tornar-se partícipe dela, envolver-se na questão da escrita a cada linha. O que significa exercer a atividade de escritor nesse mundo? Fazer de conta que estamos em outro mundo de plena liberdade é uma ilusão de todo estranha a Graciliano Ramos — sendo essa uma das lições de recusa do grande escritor. A obra internaliza o espanto do menino mais velho, a sensação de impotência e ridículo do menino mais novo, a agonia e o delírio de Baleia.
A construção de Vidas secas é de extrema liberdade com relação aos modelos tradicionais de romance, com relação à verossimilhança. Invade o terreno da poesia, o que foi tão bem percebido por João Cabral de Melo Neto. Como num painel, despreza os liames tradicionais da narrativa romanesca. Compõe o conjunto a partir de partes já por si autônomas. Tece um diálogo entre o narrador (letrado, racionalista, politizado) e o personagem (iletrado, místico e mágico, não politizado), fazendo com que os universos dos dois se contaminem mutuamente. Fabiano fala por sobre — e não sob — a fala do escritor. O narrador, aparentemente neutro, se envolve nas ações narradas, e, assim como o personagem, tampouco pode apontar as saídas para a condição de opressão em que todos vivem.
O tema da prisão (da ausência de liberdade) em Graciliano Ramos é dominante em Memórias do cárcere, é colocado como possibilidade real em Angústia, mas está presente em todos os seus livros como um tema que inclui a própria arte e que se potencializa a partir dela. A arte é o lugar em que a prisão se confronta com a possibilidade de sua superação.
A liberdade de criar do escritor moderno, especificamente dele, está em que ele dispõe de várias técnicas de produção literárias que, por sua vez, correspondem a vários modos de produção. A diacronia se oferece a ele sincronicamente. Na sua liberdade de dispor de técnicas variadas de outros momentos da História, todas reunidas como se fossem atuais, nos transmite ao mesmo tempo duas coisas complementares, embora de significado distinto e oposto.
A primeira delas é o exercício da liberdade artística como crítica ao enrijecimento da técnica numa sociedade em que a produção humana visa apenas aos interesses imediatos e alienados da dominação e em que somos todos, os seus leitores e os demais, escravos das técnicas impostas para a reprodução das condições de produção. A segunda é a ilusão de que a liberdade da arte é comum a todos os membros da sociedade de que faz parte.
A obra nos transmite essa contradição que lhe é constitutiva. É no terreno da técnica que a mimese é irrefutável: pelas técnicas que a obra põe em ação, ela aponta para o mundo da produção e, dessa forma, para a sociedade da divisão do trabalho e da exploração.
Arte é liberdade, como tal se opõe ao mundo da opressão em que vivemos. O específico do trabalho artístico é que nele os fins práticos que estão na mira do trabalho humano são postos em suspensão.
Cada artista desenvolverá o seu trabalho conforme as suas próprias peculiaridades. Isso dará a sua marca, que é a maneira como ele se situa em meio às contradições. O trabalho literário é, assim, ao mesmo tempo, amaldiçoado porque lembra ao homem, pelo revés, a sua falta de liberdade, mas também um espaço de resistência porque reafirma o horizonte da liberdade.
No seu trabalho, o artista não age para atender a qualquer finalidade prática. Na vida comum, porém, todos nós, incluído o artista enquanto membro da sociedade, somos obrigados a produzir segundo as técnicas que interessam à reificação já em via de ser absoluta. A primeira coisa que nos diz uma obra de arte é que o mundo da liberdade é possível, e isso nos dá força para lutar contra o mundo da opressão. A arte é a antítese da sociedade.
Em “Baleia” (inicialmente conto, depois capítulo, mas sempre o núcleo de que se originou a obra) inscreve-se essa dialética. Quando acompanhamos seus pensamentos e projetos, sonhos, delírios e juízos de valor, nós leitores somos também parte da subjetividade que leva o seu nome.
Hermenegildo Bastos é autor de Memórias do cárcere, literatura e testemunho. Brasília: Editora UnB, 1998 e Relíquias de la casa nueva. La narrativa Latinoamericana: El eje Graciliano-Rulfo. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
-
Na Literaz, a leitura gratuita é possível graças à exibição de anúncios.
-
Ao continuar lendo, você apoia os autores e a literatura independente.
-
Obrigado por fazer parte dessa jornada!