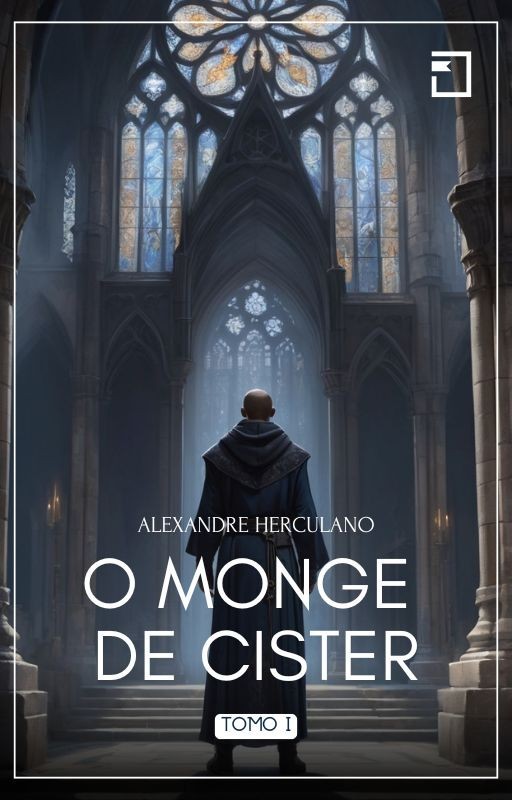O Monge de Cister: Tomo I X - A TAVOLAGEM DO BESTEIRO
Ordenamos e estabellecemos por ley que nós nem outrem de nosso senhorio, de qualquer estado e condiçom que seja, nom tenha tavolagem em praça, nem em escondudo.
LIV. DAS LEIS E POST. ANT., Lei de D. Afonso IV.
Quem hoje se encaminhar ao longo da rua vulgarmente chamada dos Capelistas, dobrar o penúltimo quarteirão da Rua Nova da Princesa e seguir pela Rua dos Confeiteiros, caminho da Ribeira Velha, terá passado por cima da sepultura das mais nobres ruínas da antiga Lisboa. A Rua Nova, designada assim por antonomásia, passava pouco mais ou menos pelo sítio em que hoje está lançada a Rua Nova de El-Rei: a sua origem remontava quase ao berço da monarquia e já no tempo de D. Fernando era o centro da actividade comercial da cidade, então frequentada de estrangeiros de diversas nações, que vinham buscar o nosso trato e comércio. Depois da feitura da nova muralha (1373-5) prolongava-se com esta e vinha findar nas proximidades da moderna Igreja de S. Julião pelo lado do ocidente, enquanto pelo topo oriental terminava no Pelourinho Velho. Aqui, a povoação dividia-se como em dois troncos: um que, subdividido em muitos ramos de ruas enredadas e escuras, subia para a Alcáçova; outro que seguia ao longo da muralha e ia desembocar fora das Portas do Mar, no bairro chamado Vila Nova de Gibraltar. Entre estas duas divisões jazia a Alfama, a cuja frente se elevava a velha catedral. A Alfama fora no tempo do domínio sarraceno o arrabalde da Lisboa gótica; fora o bairro casquilho, aristocrático, alindado, culto, quando a Medina Achbuna pousava enroscada tristemente no seu ninho de pedra, no que depois se chamou a Alcáçova e hoje o Castelo. Quando, porém, no século XIII a população cristã, alargando-se para o ocidente, veio expulsar os judeus do seu bairro primitivo, situado na actual cidade baixa, e os encantoou para a parte do sul da catedral, a Alfama foi perdendo gradualmente a sua importância e converteu-se afinal num bairro de gente miúda e, sobretudo, de pescadores. A Rua Nova, a aorta de Lisboa, rica de seiva, chamara a redor de si toda a vida da povoação. A velha judiaria era agora o coração da cidade, e a Alfama, em parte feita plebeia, e judaizando em parte, viu pender e murchar a sua guapice, transitória e morredoura como todas as glórias do mundo.
Nesse bairro, no fim da rua chamada há séculos das Canastras, junto às Portas do Mar corria uma casa baixa, mas solidamente edificada, a qual contrastava com as que lhe estavam próximas pela sua muita antiguidade: duas janelas, cuja vergas se arqueavam à feição de uma ferradura, abertas nos dois extremos da frontaria, a igual distancia do largo e achatado portal que lhes ficava no meio, desdiziam das frestas pontiagudas e estreitas que davam luz às moradas vizinhas, bem como o portal, igualmente terminado em volta de ferradura, contrastava com as elegantes portadas góticas dos outros edifícios, cujos telhados angulosos e bordados de ameias também diversificavam do tecto daquele edifício mourisco, que oferecia aos seus habitantes um eirado espaçoso, onde, pelas madrugadas serenas ou ao pôr do Sol de um dia de Estio, podiam ir respirar uma viração mais pura, que raras vezes passava pelas tuas tortuosas, estreitas e imundas da velha cidade.
Eram perto das seis horas da tarde do dia seis de Maio do ano de 1389. No pequeno terreiro que dizia, pela parte interior do muro, para as Portas do Mar já mal se divisavam os objectos, porque a noite descia rapidamente do lado oriental, posto que ainda o clarão avermelhado do crepúsculo tingisse os altíssimos coruchéus azulejados que serviam de topo e remate às torres da catedral. Pelo arco escuro e profundo das Portas do Mar entrava grande multidão de povo miúdo, principalmente pescadores, que se recolhiam antes que a escuridão da noite tornasse mais temerosos os encruzilhados becos e ruas torcidas que davam para o interior de Alfama. Com estes se misturavam os judeus, que, vestidos como os cristãos e divisando-se-lhes escassamente os sinais vermelhos que traziam cosidos nas roupas sobre o estômago, corriam apressados para o seu bairro, situado mais ao oriente junto à Porta de Alfama, no angulo da velha cerca, para lhes não sair da bolsa a inevitável multa que deviam pagar, sendo encontrados fora da Judiaria depois de terem soado as três fatais badaladas do sino da oração. Com igual ou mais rápido movimento, se viam branquejar os albornozes alvacentos dos mouros no meio do encontrado perpassar da gente. Mais raros em número que os judeus e seguindo diferente rumo, estes encaminhavam-se para a banda da antiga Porta do Ferro, donde, atravessando pelo sopé da Alcáçova, desciam para o vale da Mouraria, cujo nome provinha de ser aí situado o bairro onde habitavam e onde, ao mesmo sinal das trindades, eram obrigados a recolher-se, sob pena de castigo igual ao que se impunha aos judeus. O dia, pois, acabava, e noite ia em breve estender o seu manto de escuridão e silêncio sobre a vetusta cidade cabeça da boa e nobre terra de Portugal.
Encostado à ombreira do portal mourisco que dava entrada para a casa contígua às Portas do Mar acima descrita, um homem, que mostrava ser de idade de quarenta a quarenta e cinco anos, tinha os olhos pregados naquela mó de mesteirais, pescadores, vilãos, judeus e mouros que passavam como torrente, fazendo um burburinho infernal de gritos, risadas, motejos, cantigas e passadas a um tempo rápidas e ressonantes; ruído tal que fazia semelhar o pequeno terreiro a uma espécie de pandemónio. O personagem que contemplava esta cena popular era, pelo seu trajo, homem de armas ou, pelo menos, besteiro de cavalo e, pela sua figura e aspecto, taful de obra grossa. Baixo, refeito e roliço, nariz rombo e vermelho, faces avultadas, rebarbativo e risonho, podê-lo-ia tomar por uma figura de Sileno quem para ele olhasse, se naquele tempo houvesse alguém assaz lido em mitologias pagãs para se lembrar do jovial deus dos tonéis. Tinha vestido um tabardo de valencina azul, umas calças de pano viado, ou de riscas, de Larantona, e por cima um capeirão de barregã: cobria-lhe a cabeça um sombreiro grande de lã: tinha calçados uns sapatos de couro branco, e para completar este trajo, um tanto aprimorado, trazia pendente da cinta de cordovão vermelho uma grande algibeira ou bolsa de argempel, onde já muito a custo se descobriam alguns reflexos metálicos.
A atenção com que o estafermo, cuja figura e vestuário acabamos de examinar miudamente olhava para o tropel de povo que se recolhia não indicava a mera curiosidade de uma pessoa desocupada, que neste sensabor divertimento gastasse o tempo por não saber como o ocupar melhor. Conhecia-se, pelo estender do pescoço de espaço a espaço e pelo franzir dos sobrolhos, que ele esperava ansiosamente alguém que começava a tardar mais do que o bom do besteiro entendia ser justo. A sua impaciência não foi, todavia, posta a larga prova. Um moço de monte desceu correndo do lado da Sé e, chegando de leve ao pé do besteiro, que tinha os olhos fitos no vão da porta da cidade, já inteiramente obscurecido, bateu-lhe no ombro, dando-lhe um piparote na barba.
– Olé, Lourencinho amigo! Que imaginações vos trazem assim enlevado? Esperais dessa banda os vossos amores?
– Nem migalha, Galeote – tornou o besteiro, voltando-se rapidamente e agarrando pelo braço o rapaz, que se estorcia para lhe fugir. – Dês que el-rei D. Fernando me deu quantia para besta de garrucha, aljava de cem virotes e rocim de encavalgar; depois que o carniceiro se converteu em homem de hoste as mancebas parece que fogem do pobre de mim. Por vós esperava eu. Que novas do senhor conde?
– Aqui estará logo que tanja o sino de correr 24 Vim de volta pela Porta do Ferro, porque... Mas, com a fortuna! Já eu ia badalar por onde vim, com quem falei, o que disse... Nada, nada, meu amo! Ponto em boca!
– E que me importa a mim – acudiu o homem baixo e roliço –, a mim, Lourenço Brás, besteiro de cavalo, com tavolagem de fidalgos e homens de armas, em que pese às justiças d'el-rei, se pela banda da Sé ou pela de Vila Nova de Gibraltar Galeote Estevéns, o moço de monte do conde de Seia, me veio avisar de que seu nobre amo e senhor vinha esta noite com seus parceiros perder ou ganhar à jaldeta, ao curre-curre ou aos dados alguns centos de dobras de ouro na honrada casa de jogo das Portas do Mar, a que certos traidores cismáticos se atrevem a chamar casa de perdição? O que eu precisava de saber era se de vinha de feito.
– Virá, virá, e não só. E diz que tenhais prestes a colação do costume; mas algo mais avultada.
– Então é noitada de vulto? Temos algum mercador judeu, prazentim ou flamengo a esfolar? Ou é o arrais da carraca de Alexandria que chegou há pouco, e que vem arrevessar com vomitório de dados as marcas esterlingas de bom ouro por que vendeu os açúcares rosados nas boticas da Rua Nova? Ou é...
– Ou é ou é ou é – interrompeu o trêfego rapaz, imitando a voz rude do besteiro. – Não é nada disso, homem!
– Então que é?
– Eu sei lá!
E o moço de monte desatou a rir. Depois, encolhendo uma perna, agarrou-a pelo tornozelo e pôs-se a saltar sobre a outra, volteando diante do gordo besteiro e cantando uma volta antiga:
A que vi entre as amenas Deus! como parece bem! E mirei-la das arenas: Dês i penado me tem.
– Forte doido! – exclamou o besteiro. – Boa ocasião de cantar trovas velhas como a Sé.
O rapaz soltou a perna esquerda, alevantou a outra, volteou ainda mais rapidamente em sentido oposto e começou a trautear em diversa toada:
Dama do corpo delgado, Em forte ponto eu fui nado; Que nunca perdi cuidado, Nem afã, dês que vos vi! Em forte ponto eu fui nado, Dama, por vós e por mi!
Lourenço Brás era curioso. Quem não tem seu defeito? O moço de monte sabia alguma cousa que não queria dizer-lhe. Mas ele tinha receita experimentada para lhe desempeçar a língua. Puxou por um braço ao dançarino cantor e arrastou-o para ao pé de si.
– Acaba já com esse chilrear de rouxinol de Maio. Se não me queres dizer quem vem com o senhor conde, não digas. Repito-te que não me importa. Mas entra cá um pouco, e ao menos dir-me-ás se o vinho do besteiro é digno dos seus hóspedes. Entretanto eu porei a ceia ao lume para tudo estar a ponto. Tira-te daí, que a noite vai húmida e fria, e certa a porta após ti.
Proferindo estas palavras, Lourenço Brás entrou, e Galeote Estevéns, sem lhe responder nada, seguiu-o arrastado por força maior, mas sempre cantarolando. Agora, porém, a volta era moderna: uma dessas cantigas que surgem da imaginação dos Beethovens populares em épocas revolucionárias e que se nacionalizam com a rapidez do relâmpago.
Ábide, ábide, ábide, Mate-te a mazela: Perro castelhano Vai-te pra Castela.
Se é vinho de mais d'ano Venha uma escudela. Ábite, ábite, ábite...
– Vai cantar dessas trovas, Estevéns, em casa do senhor conde – disse o besteiro, voltando-se para trás e rindo.
– E porque não? Ele é tão bom vassalo de el-rei como João Rodrigues de Sá ou outro qualquer dos melhores.
– Sim, depois de Aljubarrota, quando no seu castelo de Sintra já não podia ter voz muito tempo pelo cismático de Leão e Castela 27 Mas, caluda, que ambos nós somos homens de sua mercê.
Dizendo isto, os dois tinham atravessado um longo e escuro corredor e achavamse numa vasta quadra do edifício, a qual ficava na extremidade dele junto com o muro da cidade. Cinco lâmpadas de três lumes pendentes do tecto alumiavam este aposento, que durante o dia apenas recebia luz da janela mourisca rasgada no ângulo do lado da muralha, janela que pouca luz lhe podia transmitir, fechada como era por uma grade de ferro tão basta que melhor lhe caberia o nome de rede. Até a altura da cabeça de homem as paredes da sala estavam forradas de tábuas de castanho, madeira de que igualmente era tecido o pavimento e construída uma banca desconforme colocada no meio da casa. Uns como sofás, de encostos mui baixos nos topos e cobertos com mantos ou coberturas de picote de Palência que caíam até o chão, viam-se enfileirados ao longo das paredes e ao redor da grande mesa, cuja superfície estava cheia de picadas de punhal, o que provava que os jogadores costumavam ter pronto e à mão juiz, senão recto, ao menos inflexível, que pusesse termo, bem que de modo um pouco violento, às suas altercações.
O besteiro apenas entrou encaminhou-se para uma descompassada chaminé, rasa com o chão e embebida na parede, onde ardiam algumas achas de zambujeiro: puxou pata o lume dois grossos toros que estavam arrumados com outros no fundo da lareira, tirou de um armário contíguo uma perna de boi quase inteira, pô-la em uma sertã com duas alentadas postas de toucinho e pendurou esta de um gancho que ficava por cima da fogueira; depois tornou ao armário e veio colocar sobre a mesa uma grande agomia de cobre cheia de vinho e duas taças de estanho, fazendo ao mesmo tempo sinal a Galeote Estevéns para que se assentasse.
O moço de monte obedeceu, enquanto de pé o besteiro enchia as duas taças e empurrava uma para defronte dele.
– É do especial! – disse Galeote Estevéns, depois de ter bebido, pousando a taça em cima da mesa e chupando a um tempo ambos os beiços.
– Não há pinga como esta dez léguas em volta – respondeu Lourenço Brás, tornando a encher-lhe a malga, que o bom de Galeote Estevéns despejou de um golpe com o mesmo garbo.
O besteiro pegou de novo na agomia e na taça para repetir a dose, depois de ter ido virar a carne que chiava na sertã.
– Tá, tá – acudiu o moço de monte, pondo-se em pé e interpondo a mão devagarinho entre os dois vasos, nos quais se ia ainda uma vez fazer a demonstração de que os líquidos tendem a nivelar-se.
– Que diabo de homem és tu? – disse Lourenço Brás com aquele tom de mau humor que indica a boa vontade. – Impas com duas sedes de vinho? O capelão da mouraria, Zein al-Din, que, segundo dizem, nunca lhe tomou o cheiro, não creria ter quebrado o preceito do seu maldito Alcorão se não tivesse bebido mais do que essas duas lágrimas dele, que duvido te chegassem ao gasnete por pouco furados que tenhas os dentes.
– Agora por mouraria... já me passava o dizer-vo-lo!... – exclamou o moço de monte, rindo a bom rir e pondo as mãos nas ilhargas, como se receasse estourar.
– O quê? – interrompeu o besteiro, aproveitando ao mesmo tempo a retirada das mãos de Galeote para lhe encher de novo a taça até as bordas.
– O quê? Uma vergonha para tavolageiros goliardos.
– Vergonha! Pois quê? Falas comigo, rapaz?
– Falo, falo! Vós, homem baptizado tamanino, andais-me comido de pecados em demanda do inferno, e um perro de um mouro, tornadiço 1, se não me engano, de há pouco, temo-lo daqui a nada santo! Vade retro, Satana!
E Galeote deitava a língua de fora a Lourenço Brás, pulando diante dele e fazendo com os dedos índices uma cruz diante da cara do besteiro.
– Terçãs me comam, se te entendo, homem! Desembucha lá. Que diabo de santo é esse? – disse por fim o tavolageiro, depois de contemplar por algum tempo, de braços cruzados, as visagens e cabriolas do rapaz.
– Adivinhai, misser Lourenço, adivinhai. Mais uma, mais duas, mais três, senão arremato. Arrematei. É o jogral de Restelo; jogral e maninelo que foi; beato e santo que será.
– Quem, o perro do Ale quinteiro que foliava por essas ruas, e que desapareceu desde o dia em que o atropelaram à Sé, quando tu e os outros velhacos da tua laia lhe estorroaram na cara lixo e terra, porque arrenegava de Cristo e de Mafamede, no meio das suas lástimas doridas?
– Falou, meu gentil besteiro.
– Ora essa!... Ah, ah, ah! – disse Lourenço Brás, fazendo a segunda à risada de Galeote. – De que freguesia é orago o novo santo?
– Ainda não vai nessas alturas; mas espero que lá suba dentro em pouco – atalhou o moço de monte.
– Tenho-o visto entrar e sair do Colégio de S. Paulo, e andar muito sisudo atrás de Fr. Lourenço Bacharel e daquele frade moço seu companheiro, com os olhos sempre no chão e com tais ademanes de converso ou beguino, que parece um homem de Deus, de guisa que, a la fé, de todos os seus momos este último é o que mais me faz rir.
– Ah! então o caso é outro – replicou o tavolageiro, bebendo o vinho que ainda tinha intacto diante de si. – Todavia, lá vai à saúde do futuro servo de Deus, que será canonizado, nanja pelo padre santo de Roma, mas pelo herege cismático que está em Avinhão. Anda, Galeote, bebe, e vamos a falar no que importa; dize-me quantos sãos os hóspedes que hoje...
¹ Tornadiços chamava o povo, como injúria, aos judeus e mouros convertidos.
– À saúde de Santo Ale, ex-jogral de ofício e escolar de beato na Estudaria de S. Paulo – gritou Galeote Estevéns, levando a taça à boca e já quase embriagado ao ponto em que o besteiro o queria.
Um ruído de muitas passadas reboou então pelos ecos do aposento. Tão embebidos estavam os dois no seu diálogo, que só então deram tino de que alguém se aproximava.
Estremecendo, Lourenço Brás voltou-se rapidamente: Galeote Estevéns, pondo-se em pé, deixou cair a taça e ficou com a boca semiaberta e com os olhos pregados na porta.
No limiar dela estava uma pinha de vultos, embrulhados em grandes capuzes de almáfega parda, de modo que não lhes apareciam os rostos. Lourenço Brás olhou de través para o moço de monte, como acusando-o de ter deixado a porta aberta, e saltando de um pulo ao canto da casa, lançou mão do largo cutelo que tinha pendurado de um prego e gritou:
– Olé, que ninguém dê passo sem dizer seu nome, senão com esta almárcova farlhe-ei nas pernas um traço como o que fiz nas do cavalo de Fernão Sanches, na cavalgada entre Elvas e Badalhouce, em tempo do bom rei D. Fernando.
– Devagar, Lourencinho, devagar – disse o conde de Seia D. Henrique Manuel, deitando para trás o capelo do capuz. – Não tens de que te arrecear. Sou eu! Parecia-te o meirinho da corte com seus algozes? Hem?
– Lá a dizer a verdade, não é graça – respondeu o besteiro, largando o cutelo e coçando na cabeça. – Uma pessoa, aqui, anda a bem dizer com os tagantes nas ancas, os degraus do pelourinho debaixo dos pés ou a corda de linho cânave de três ramais ao redor do pescoço; açoutado, posto na gaiola ou enforcado por dar gosto aos fidalgos. Vossa mercê bem sabe o que rezam as posturas daquele rei velho, o avô d'el-rei, sobre as tavolagens...
– Melhor que tu! – atalhou o conde, voltando-lhe as costas e dirigindo-se ao moço de monte, que parecia uma estátua. – Galeote, patife, anda cá. Foste ao adro da Sé. Que te disse o embuçado?
Galeote aproximou-se, procurando ter-se firme no chão que lhe dançava em redor, e, olhando com aquele olhar vago que é o sobrescrito da embriaguez, respondeu com voz tarda e maviosa:
– Sem falta... Há-de vir... Ao sino de correr... Não pode tardar... Puah!
E recuando, recuando, com as mãos atrás das costas, arrimou-se à quina da ombreira da porta e ficou por alguns instantes a oscilar sobre ela, como balança no fiel, para um e para outro lado.
– Vai-te! – gritou o conde colérico. – Aquele pichel, Lourenço Brás! A culpa é daquele pichel. Anda, põe-no fora, que não sei se acertará com a saída. Cerra a porta após ti e espera. Quando sentires cinco aldravadas, abre, e deixa entrar um embuçado com que darás de rosto. Toma tento. São cinco. A não ser isso, batam uma, batam cem, faze de conta que estás mono. Lembra-te do meirinho da corte e do corregedor de el-rei. Vereis agora – acrescentou, voltando-se para os vultos rebuçados – se é fantasia minha.
Olhos no conde, olhos na sertã, o besteiro tinha neste meio tempo ordenado tudo para a refeição. O desconforme assado fumava no meio da mesa numa ampla palangana de estanho e rodeavam-no diversas veações frias: os pratéis, as agomias e os pichéis do mesmo metal brilhavam em volta, bem como as copas ou taças, as quais, no rigor da moda daquele tempo, eram de prata, como o traste de mais luxo nas mesas; nem havia já nobre ou burguês abastado a quem faltasse ao menos uma copa lavrada. Vasos de Louça grosseira, cheios de confeitos ou doces secos, alféloa e frutas, ladeavam as poucas mas suculentas iguanas que nessas eras mais singelas deviam bastar, sem outros acepipes e manjares, pana satisfazer o bom e pronto apetite de rudes barões e cavaleiros. Lourenço Brás, apesar da lida em que andava, não perdera uma das palavras do conde. Ria interiormente da repreensão que lhe dera por causa do moço de monte. Não tinha ele visto o seu nobre protector, naquele mesmo aposento, ainda em pior estado por longas noites de jogo e devassidão? Calou-se, todavia, e saiu arrastando após si Galeote Estevéns, que cambaleava e praguejava como possesso. Dali a pouco ouviu-se a bulha que fazia correndo o ferrolho com que se fechava a sólida porta da tavolagem. Depois tudo recaiu em profundo silêncio.
Os embuçados que seguiam D. Henrique tinham entretanto recuado os capelos e deixado ver os rostos, atinando depois sucessivamente os capuzes para cima dos assentos enfileirados ao correr das paredes. Viam-se-lhes os gibões de duas cores pelas aberturas dos peitilhos das jórneas, espécie de camisolas nas quais se bordavam as armas das famílias. As suas toucas ou barretes, onde uma pequena pluma, presa com um broche de ouro, se lhes arqueava sobre a testa, as calças também de duas cores, mas trocadas com as dos gibões, e os longuíssimos sapatos de bico revirado bastavam para os dar a conhecer por pessoas nobres. No meio, porém, daquela brilhante companhia divisavam-se duas figuras cujo trajo singular contrastava de mais de um modo com as louçainhas dos cavaleiros. Eram dois monges de Alcobaça: um de boa idade, gordo, nédio, vermelho, reverendo tipo da mais pura raça cisterciense; outro mancebo, magro, trigueiro-pálido, ossudo, feições prominentes: um com meneios suaves e ao mesmo tempo majestosos e livres, rindo-lhe a saúde nas roscas taurinas do pescoço, onde o toucinho se fortificara contra as vãs tentativas da penitência; outro com gesto melancólico, severo, morboso, como se o devorasse febre lenta ou remorsos de grandes crimes. Ao primeiro aspecto, sentiríeis atracção para o mais velho, e repelir-vos-ia o mais moço; mas, se reparásseis atentamente nos olhos dos dois monges, os afectos se vos trocariam. Nos daquele havia o que quer que era semelhante a fulgurar de relâmpago e uma vaga incerteza que jamais lhos deixava demorar em objecto algum; nos deste, debaixo de brilho febril, havia uma expressão profundamente triste, que despertava involuntária compaixão e simpatia, de modo que as lágrimas se vos escoariam desapercebidas pelas faces, se vos pusésseis a contemplar aquele gesto; porque a vossa alma sentiria instintivamente resfolegar debaixo desse exterior carrancudo um vulcão de angústias extremas e de antigos e insanáveis pesares.
Cremos que estes sinais bastam para sabermos que estamos com conhecidos nossos, e que os dois monges são ninguém menos que D. João de Ornelas e Fr. Vasco envoltos nas suas longas e amplas cogulas negras, onde apenas se distingue junto ao colo a orla do hábito branco. Agora, porém, os outros que vestem essas roupas variegadas, no meio das quais se estampam as dos dois vultos monásticos, não são frades: são mui ilustres fidalgos da corte de D. João I. Leitor, se és um peão, põe-te em pé e descobre-te: vais ouvir os nomes de vários herdeiros dos mais velhos apelidos de Portugal, dos descendentes de alguns fetos barões dos séculos XII e XIII. Eram, de feito, os recém-chegados Gonçalo Vasques Coutinho, Egas Coelho, filho de um dos matadores de Inês de Castro, e os dois Pachecos, filhos de Outro assassino seu; eram João Afonso Pimentel, o marechal Álvaro Gonçalves Camelo prior do Hospital, o senhor de Resende Fernando Vasques descendente de Egas Moniz, João Rodrigues de Sá chamado o das Galés, o reposteiro-mor Pedro Lourenço de Távora, Lopo Dias de Sousa mestre da Ordem de Cristo, e muitos outros membros dessa cavalaria brilhante que tão célebre tornou por assinalados feitos de armas a época de D. João I.
Se, para não tecermos um catálogo crucificador, à maneira de dois grandes poetas Homero e Fernão Lopes e do nada poeta Barros, sepultamos num vago et coetera tantos nomes famosos, sofra o leitor que mencionemos com individuação um personagem que nesta memorável noite se achava na tavolagem das Portas do Mar e que está longe de lhe ser estranho, posto que ainda não o visse passar, senão como eco ou sombra vã, nas precedentes cenas do nosso drama. Este personagem é o D. Vivaldo dos paços de Vasqueanes, o pupilo do arcebispo de Braga; é Fernando Afonso, o camareiro-menor de sua mercê o nobre rei de Portugal.
O moço Fernando era (já noutra parte o dissemos) irmão de um dos furibundos romanistas que constituíam o conselho da Coroa, os quais, tendo por chefe o mais hábil entre todos, o chanceler interino mestre João das Regras, o ajudavam a ir alargando passo a passo os limites do poder do rei à custa da fidalguia, enquanto não chegava a vez da burguesia, e que bem providos de textos de Justiniano, de glossas, distinções e corolários, sacados dos armazéns científicos de Bolonha, de Pisa e doutras escolas de Itália, armazéns que a facúndia dos Rogérios, dos Albéricos, dos Acúrsios e dos Bártolos tinha tornado inesgotáveis, vinham aos bandos abastecer Portugal da quintaessência de Direito Romano e as cabeças dos príncipes de ideias de absolutismo.
João Afonso de Santarém, nobre por sangue, preferira nobilitar-se pela ciência. O futuro pertencia aos juristas: soube conhecê-lo e lançou-se na estrada que conduzia a uma influência sólida e real, abandonando a do esplendor e dos privilégios, ainda numerosos, mas já em parte vãos, da classe a que pertencia. E de feito, pela profundidade dos seus estudos e por talentos indisputáveis, João Afonso tinha chegado a tornar-se uma espécie de oráculo entre os conselheiros de el-rei.
Oposto em índole a seu irmão mais velho, entre o qual e ele pouca afeição mútua havia, Fernando seguira inteiramente os instintos da sua casta, casta opressora e daninha, a qual ia principiar essa expiação secular que, com breves intervalos, se protraiu até o dia fatal em que a altiva fronte do duque de Bragança pendeu sobre o cepo de D. João II. Tão ignorante como altivo, a raça burguesa era para ele uma raça vil e réproba: para ele a situação dos antigos malados ou clientes do fidalgos e dos colonos das terras senhoriais, de que ouvira mais de uma vez falar a velhos cavaleiros que ainda haviam conhecido na infância os terríveis barões do século antecedente, era a situação natural de todos aqueles cujas famílias não podiam ir entroncar-se nos vinte e cinco ou trinta padrões ou troncos das primitivas linhagens do reino. No seu foro íntimo, um vilão pouco acima estava de uma alimária na escala da criação, e, se uma vez parecera interessar-se a favor da vilanagem dos coutos de Alcobaça, isso não provava senão quanto rancor nutria na alma contra o abade D. João de Orne-las, ou por causa das rixas deste com o primaz ou por algum outro motivo hoje desconhecido.
Ainda com estas preocupações políticas, Fernando podia, como tantos outros nobres de igual pensar, ter uma alma bela e generosa. Mas estava longe disso. Ao homem habituado a ler no gesto dos indivíduos a sua história moral e íntima não seria difícil descortinar-lhe no aspecto uma índole má ou pervertida. O camareiro-menor era um mancebo de vinte e cinco anos, de airosa figura, meneios engraçados, feições regulares, olhos rasgados e negros, onde se reverberavam ardentes paixões. Todavia, no seu olhar voluptuário, nas rugas quase imperceptíveis mas frequentes das faces, no descorado dos lábios e no perfil levemente suíno do rosto descortinavam- se-lhe os sentimentos ignóbeis e as ruínas que naquele corpo e naquela alma tinha causado o excesso dos deleites. Simples pajem no tempo de D. Fernando, servira na revolução do Mestre de Avis como escudeiro de uma lança, o que o habilitava para receber, mais ano menos ano, as esporas douradas de cavaleiro, mira das ambições de todos os homens de guerra numa época em que as ideias cavaleirosas tiveram maior voga em
Portugal e em que se liam com avidez, se traduziam e até se compunham, com geral aplauso, romances, como os de Tirante o Branco e de Amadis. O grau de cavaleiro, não raro bem cabido em valentes homens de armas, era também (salva a ideia enérgica e generosa que representava) a fita, a comenda, a grã-cruz, o dixe enfim, com que no século XIV se regalava muitas vezes a fofice de paspalhões e parvos.
D. João I, homem austero, tinha notável predilecção por Fernando Afonso. Era um facto aparentemente contraditório, mas cuja razão é fácil de alcançar. Semelhantes simpatias entre caracteres opostos são mais vulgares do que se cuida; porque o tocaremse os extremos é uma das grandes verdades do mundo moral. Escolhido para camareiromenor de el-rei, o mancebo, cujas inclinações viciosas se haviam radicado e desenvolvido na vida aventurada da guerra, obrigado a reportar-se na corte severa do Mestre de Avis, corte benigna e ceremoniática, onde reinavam os usos e pontualidades inglesas, afez-se a representar dois papéis, a revestir sucessivamente dois caracteres, o de cortesão, medido pelo génio e pelas ideias do rei, e o de soldado licencioso, que era o seu próprio e que, excitado pelo constrangimento, se tornava ainda mais desfaçado quando o jovem escudeiro podia lançar fora o manto da hipocrisia. Modesto e circunspecto, lhano e serviçal perante o monarca, perante D. Filipa, a boa rainha, e ainda perante os barbas-grisalhas do conselho e privança de sua mercê el-rei, vingava-se do viver monótono e constrangido do paço nas ocasiões em que, com qualquer pretexto, podia obter liberdade. As tavolagens e as outras espeluncas de devassidão não tinham freguês mais frequentador, nem mais digno de as frequentar. Incapaz de afectos puros, sinceros e duradouros, a crónica dos seus amores era um tecido de anedotas mais ou menos asquerosas, mais ou menos atrozes, só brilhante aos olhos dos outros escudeiros e cavaleiros moços, consócios das suas orgias ou das suas aventuras. Gloriava-se de ter murchado ao sopro mirrador da desonra mais de uma flor de inocência, de mais de uma vez ter profanado o santuário doméstico, de muitos desses triunfos, enfim, que o mundo saúda com sorrisos aprovadores e que só revelam as trevas da consciência, o ateísmo brutal e estúpido acerca dos mais poéticos e generosos sentimentos do homem. Ambicioso de uma triste reputação, julgava-se completamente feliz quando nas festas nocturnas de embriaguez era, no meio do tinir das taças, aclamado com vivas frenéticos vencedor de todos os seus émulos em devassidão.
Tal era o indivíduo sobre o qual não podíamos eximir-nos de chamar especialmente a atenção do leitor; o indivíduo que tanta influência tivera nos destinos de Vasco e de Beatriz, de cuja triste história ele era o verbo, ele, que, iludindo-a, se pode dizer assassinara pelas costas um velho para prostituir um anjo.
Apenas os cavaleiros ali reunidos deram com os olhos nos cistercienses ficaram suspensos. Sabiam agora quem eram os dois desconhecidos que tinham encontrado com D. Henrique Manuel na alpendrada do Colégio de S. Paulo, junto da qual o conde lhes dera ponto de reunião. A presença do abade de Alcobaça naquele lugar era tanto mais inesperada, quanto era certo que muitos dos circunstantes ignoravam ainda a sua chegada a Lisboa, e todos qual partido o poderoso monge seguiria nas questões políticas que então se ventilavam e em que os prelados, cujas fileiras se recrutavam já largamente entre os doutores, se inclinavam pela maior parte a favor da Coroa. Admirados, pois, daquela súbita visão, imóveis e sem proferirem palavra, os fidalgos olhavam alternativamente para o conde de Seia e para D. João de Ornelas.
Dessa situação constrangida os tirou, todavia, em breve D. Henrique Manuel. Metendo-se entre os dois frades, tomou pela mão o prelado cisterciense e, dirigindo-se aos que o rodeavam, disse:
– Cavaleiros, estranhais, por certo, a presença do nobre abade de Alcobaça neste lugar e a estas horas. Com a singeleza de que vos tenho dado mil provas, dir-vos-ei a causa disso. Quando a souberdes, agradecer-mo-eis. Não ignorais que depois da batalha de Aljubarrota entreguei ao Mestre de Avis o Castelo de Sintra, que eu tinha por D. Beatriz de Castela. Leal enquanto pude sê-lo ao preito que fizera, havia anteposto o meu dever de alcaide-mor ao amor da pátria, às minhas afeições, a tudo. Cedi só quando conheci que a mão de Deus fazia pender irresistivelmente a balança a favor de D. João I. A voz da consciência não me acusava do procedimento que seguira – O preito antes de tudo! São estas as tradições das nossas linhagens; estes os exemplos de nossos avós... E, todavia – continuou o conde, depois de uma breve pausa, durante a qual cravou os olhos em João Rodrigues de Sá e no reposteiro-mor –, ao apresentar-me na Corte não achei lábios que me sorrissem, peito de amigo que se estreitasse ao meu!... Era o tempo do predomínio dos burgueses; eram as orgias da vilanagem, e a nobreza curvava-se a tão vis senhores, embora no exterior mostrasse ademanes de orgulho!... Já lá vão quatro anos: não falemos mais nisso... Mas eu mentia dizendo-vos que não achei na Corte um amigo. Ei-lo aqui. Achei o nobre D. João de Ornelas... Agora, apenas soube que o mui reverendo abade era chegado a Lisboa, expus-lhe a situação dos negócios. Supunha-o, e suponho-o ainda, interessado como nós na conservação dos privilégios que nossos avós compraram em mil batalhas contra os Mouros e contra Leão; não podia, não devia esconder-lhe as nossas esperanças e desígnios. Quis que ouvisse as revelações antecipadas que esperamos. Os seus conselhos prudentes ser-nos-ão úteis para começarmos com vantagem o combate; para prevenirmos com tempo a ruína total dos nossos antigos foros e liberdades. Senhores D. João de Ornelas está connosco: connosco para a luta; connosco para a vitória. Peço alvíssaras da boa nova.
– Merecei-las, conde de Seia – exclamou o prior do Hospital, estendendo a mão para o abade, que lha apertou, ao que parecia, cordialmente. A maior parte dos outros fidalgos abraçaram sucessivamente o monge, que recebia aquelas demonstrações com afabilidade tão excessiva, que, a serem mais cautelosos, teriam desconfiado dele. Quem lhe conhecesse a fundo o carácter diria que D. João de Ornelas estava no meio de inveterados inimigos, tal era o excesso da sua benevolência. Fernando Afonso foi o único que se não moveu, e o leitor que sabe qual ódio subsistia entre estes dois indivíduos compreende, sem dúvida, o procedimento do camareiro-menor. Acabado o burburinho, o abade fez sinal para que o escutassem.
– Devíeis ter contado comigo no vosso empenho, senhores meus! – disse ele. – Sabeis que detesto as ousadias vilãs dos tristes tempos que vão correndo. E, graças à Virgem bendita, nos coutos de Alcobaça as víboras populares não alevantarão as cabeças; que hei-de sempre calcar-lhas, como a mulher forte da Sagrada Escritura.
– Má comparação – murmurou Fernando Afonso, virando-se para o senhor de Resende, mas em tom que o abade o ouvisse. – Devia dizer: como a raposa no galinheiro, a gineta no pombal, o lobo no redil, o magarefe no matadouro...
– Imprudente! – interrompeu em voz submissa o conde de Seia, que tossia com toda a força dos seus excelentes pulmões, puxando-lhe pela falda da jórnea.
Pois não são mais verdadeiras estas?
– Louco!
O abade, cujo olhar penetrante se cravara de relance no mancebo, prosseguiu, apenas cessou a tosse extemporânea do conde, como se nada tivera ouvido:
– Senhor de terras, alcaide de castelos, fronteiro de portos de mar pelo pesado cargo que sem merecimento ocupo e com que a Providência quis provar o meu sofrimento, sou parte na vossa demanda em que se ventila também a causa dos abades do santo Mosteiro de Alcobaça, contra o qual, creio-o firmemente, nunca prevalecerá o inferno. – E depois de uma pausa acrescentou: – Nem enredadores covardes!
Ao proferir estas palavras, D. João de Ornelas fitara a vista, sorrindo com dobrada afabilidade, em Fernando Afonso.
Entre os olhos do moço escudeiro, que se torceram obliquamente para o prelado, vincaram-se três rugas profundas, e uma praga rouca e ininteligível de cólera lhe passou por entre os lábios que mordera. Foi a passagem do relâmpago.
Depois tornou a aproximar a boca ao ouvido de Fernando Vasques e murmurou no mesmo tom anterior um novo segredo, demasiadamente audível:
– O cachaço vermelho do frade anafado e nédio bem mostra as mortificações de sua reverência. Velhaco!
Todos se voltaram, como tocados por vara mágica: a provocação era grosseira e directa. Não havia já tosse no mundo capaz de a encobrir.
Todavia no rosto do terrível monge reinava o mesmo plácido sorriso.
O escudeiro, porém, não estava ainda satisfeito: lançou mão da taça que Lourenço Brás deixara cheia sobre a mesa e disse em voz alta:
– Permiti, cavaleiros, que eu saúde a aurora da salvação da nossa causa. Desde que o ilustre abade de Santa Maria (abbas pretor, como lhe chama em gira de breviário o seu digno amigo, meu irmão) se declara por nós, está a vitória certa. Quem ignora que ele tem digamos assim, debaixo de chave a sorte da vilanagem insolente!
A alusão sangrenta às violências praticadas por D. João de Ornelas na vila de Évora não pareceu fazer a mais leve impressão no ânimo do prelado. Esperou tranquilamente que Fernando Afonso acabasse de beber. Chegou-se então a ele com passos lentos, pegou na taça, que o escudeiro espantado largou da mão sem tentar retê- la, e foi pô-la sobre a mesa. Depois, cruzando os braços, voltou-se impassível para o mancebo e, com o mesmo sorriso benévolo, disse-lhe:
– Mantenha-vos Deus, senhor, que tanto fiais de um pobre frade. Sou eu, somos nós todos, que, nesta justa demanda, devemos pôr em vós a esperança; em vós que sois poderoso e valido; que sois valente e generoso; que sois, enfim, um nobre, franco e leal cava1 eiro.
Um calafrio de susto coou pela medula dos ossos de alguns circunstantes que conheciam o abade, ao ver a insólita humildade de um dos mais orgulhosos prelados de Portugal, e ao ouvir-lhe a cortês resposta, em que, todavia, dera à palavra leal uma expressão singular. O coração do próprio Fernando Afonso bateu mais rápido ao ouvila: e contudo, buscou esconder a sua perturbação. Estendeu o braço para Fr. Vasco e tocou-lhe levemente no hábito. O monge estremeceu e recuou, como se uma serpente o houvera mordido, e os seus olhos cavos despediram estranho fulgor.
– Perdoai, nobre e ilustre prelado – disse o camareiro-menor, dirigindo-se a D. João de Ornelas. – Leio no rosto destes cavaleiros certa inquietação, que naturalmente desperta a presença de um desconhecido no meio de nós. Este vosso companheiro... este monge ou fantasma, hirto, mudo, misterioso...
– Quanto a este monge – replicou D. João de Ornelas em voz baixa e com um gesto de compaixão – nada temais. Pobre moço! Idiota, absolutamente idiota. Escolhi-o por isso para me acompanhar, segundo a santa regra da ordem. Verá e não terá visto: ouvirá e não terá ouvido. – Depois, sacudindo pelo braço o companheiro, bradou-lhe: – Vasco, filho de S. Bernardo, tomaste sentido? Responde ao que te perguntaram.
Como se aquele movimento e aquelas palavras o houvessem despertado de uma espécie de sonolência, o moço cisterciense alçou a cabeça, olhou sucessivamente para o abade e para os fidalgos, encolheu os ombros e caiu de novo no seu aparente dormitar.
As atenções tinham-se naturalmente derivado para esta cena. A tempestade que ameaçava estourar parecia espalhar-se. O conde de Seia, porém, foi um dos que não ficaram tranquilos com a moderação do abade.
No momento em que ia a renovar-se a conversação, distraída até certo ponto do seu objecto pela impetuosa malevolência do camareiro-menor e pela tremenda humildade do chefe dos monges brancos, cinco fortes aldravadas na porta exterior da tavolagem a vieram positivamente interromper. Fez-se então profundo silêncio, porque era o sinal esperado.
– Cavaleiros – disse o conde de Seia depois de escutar um instante e aproximando-se da mesa –, assentai-vos. Marechal, à cabeceira. Que ninguém ocupe esse lugar junto a vós. É para o bom do vilão. Tudo em pé apenas ele entrar. Graves como dez garnachas negras a disputar sobre as leis imperiais.
Os fidalgos obedeceram a estas disposições, como às de caudilho que os ordenasse em batalha. Só João Rodrigues de Sá pareceu hesitar, murmurando algumas palavras ininteligíveis, que, sem ofensa, se poderiam comparar à rosnadura de um rafeiro irritado. O abade de Alcobaça puxou pela manga a Fr. Vasco e dirigiu-se com ele para a mesa. No meio daquele movimento confuso e apressado os dois frades segredaram um com outro. O que disseram ninguém o ouviu: foi, todavia, um curto, mas significativo diálogo.
– Representaste excelentemente o papel que te coube no auto – dizia D. João de Ornelas em voz sumida e rápida. – Conheces enfim o nosso comum inimigo! Insolente e infame; roubador de tua imã, assassino de teu pai, procurador dos meus vilãos. O miserável ainda crê que os seus insultos me ferem. Insensato!
– Dom abade! dom abade! – murmurou Fr. Vasco, apertando o braço do seu interlocutor. – O coração,. verteu-me sangue de novo ao ouvir a sua voz. Adivinhou-o o meu ódio, e nunca a sua detestável imagem me fugirá da memória...
Não puderam dizer mais nada. Os fidalgos tinham-se assentado, e tudo recaíra em absoluto silêncio. Só o interrompia o som baço das lentas passadas de Lourenço Brás e de alguma outra pessoa que o seguia.
-
Na Literaz, a leitura gratuita é possível graças à exibição de anúncios.
-
Ao continuar lendo, você apoia os autores e a literatura independente.
-
Obrigado por fazer parte dessa jornada!